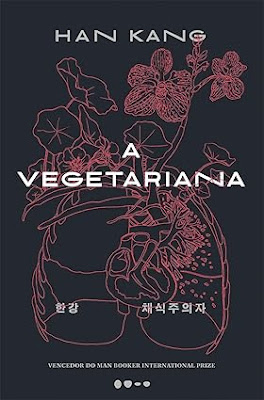Os filmes e séries mais interessantes que eu vi em janeiro:
O Brutalista (The Brutalist — EUA, ING, CAN — 2024) — Adrien Brody vivendo uma jornada sobre a decadência e o lado sombrio do Sonho Americano a partir da história de um imigrante húngaro judeu sobrevivendo do Holocausto que vai para os Estados Unidos para reconstruir a sua vida. Muito bom filme. E ainda descobri que o brutalismo é uma corrente da arquitetura.
Queer (Queer — ITA, EUA — 2024) — Adoro como os filmes do Luca Guadagnino têm textura, alma, tem toda uma assinatura própria. Aqui Daniel Craig vive um alter-ego de William S. Burroughs, um homem solitário que descobre o amor em meio à vida hedonista e de excessos em que vivia.
A semente do fruto sagrado (Dâne-ye anjir-e ma´âbed — FRA, ALE — 2024) — muito bom filme que tem como pano de fundo os protestos no Irã contra a obrigatoriedade do uso do hijab. No meio de tudo, uma família em choque com um pai que trabalha para o sistema, uma mãe entre a submissão ao marido e o amor pelas filhas e as filhas lutando por um future melhor.
Pequenas coisas como estas (Small Things Like These — IRL, BEL, EUA — 2024) — É curioso como o filme é angustiante ao mostrar um homem de coração bom e traumatizado como só o Cillian Murphy sabe ser, vivendo o dilema entre fazer a coisa certa e se prejudicar e fechar os olhos para os abusos da Igreja numa Irlanda arraigadamente católica.
A verdadeira dor (A real pain — EUA, POL — 2024) — Gosto muito do Kieran Culkin neste filme sobre dois primos de passados e estilos bem diferentes que buscam uma espécie de reconciliação a partir de uma viagem às raizes da família na Polônia. E só. Não fosse por ele seria um filme apenas ok.
Joan Baez I am a noise (Joan Baez: I am a noise — EUA — 2023) — Bom documentário sobre a carreira da ativista e uma das principais cantoras de folk e americano. Explora os principais pontos da vida de Baez.
Mars Express (Mars Express — FRA — 2023) — Bela animação futurista francesa que envolve crime e uma revolta das máquinas numa Marte colonizada no século XXIII.
Terra Indomável (American Primeval — EUA — Netflix) — Série sobre o início da exploração e conquista do Oeste norte-americano. Tem toda a espiral de violência entre nativos, imigrantes, mórmons e o governo. Muita sujeira e caos.
A grande descoberta (Genombrottet — SUE — Netflix) — Série curtinha e bem interessante sobre como a polícia sueca usou a genealogia e testes genéticos para resolver um crime depois de 14 anos.
Landman (Landman — EUA — MTV e Paramount) — Nova série de Taylor Sheridan. Diálogos e posturas extremamente héteros, mas com um interessante conteúdo apocalíptico sobre o presente e o futuro da indústria do petróleo. Extremamente pessimista e ninguém melhor do que o Billy Bob Thornton e Jon Hamm para encarnarem estes arautos do mundo perdido de matriz energética poluente.